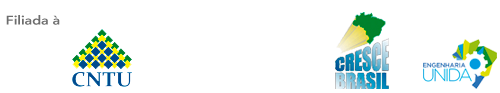O programa espacial brasileiro “nasceu” já com o DNA da burocracia e da lentidão. No dia 2 de agosto de 1961, para marcar a visita a Brasília do cosmonauta russo Iuri Gagarin – o primeiro homem a ir ao espaço –, o presidente Jânio Quadros assinou uma minuta de decreto que estava parada em seu gabinete havia meses. Com isso ele criou um grupo de trabalho, que por sua vez tinha a finalidade de criar uma comissão encarregada de tratar das atividades espaciais do país.
Passados 55 anos desde então, o Brasil produziu sete satélites – dois deles em parceria com a China – e três nanossatélites. E vem tentando emplacar um modelo de veículo lançador, que, além de nunca ter obtido êxito em seus testes, tem sua história marcada pelo horrível desastre que matou 21 técnicos em 2003, no Centro de Lançamentos de Alcântara, no Maranhão.
Por sua vez, o programa espacial da Índia teve início em 1963. Desde então o país asiático produziu 86 satélites e microssatélites, enviou uma sonda para Marte e, até anteontem (terça-feira, 14), havia realizado 58 decolagens de seus quatro modelos de lançadores. Além disso, com 20 desses lançamentos, também havia colocado no espaço 79 satélites de países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Japão, Suíça e vários outros da Ásia e Europa.
Ontem, quarta-feira (15), com um só veículo lançador PSLV-C37, a Isro (sigla em inglês para Organização Indiana de Pesquisa Espacial) levou para o espaço um satélite principal de 714 kg, de observação terrestre, e 103 nanossatélites que juntos pesam 664 kg, quebrando o recorde russo de colocação de 37 engenhos em órbita com um único foguete.
Falta de dinheiro
Muitas pessoas, ao lerem este texto, devem estar perguntando por que um país como o Brasil, com tantas prioridades e dívidas com sua população, principalmente a mais carente, deveria estar assumindo despesas ainda maiores com pesquisa espacial. Acontece que a Índia e alguns outros países não estão apenas gastando dinheiro com esse setor. Na verdade, estão ganhando muito.
Integrada à indústria aeronáutica sob a denominação “aeroespacial”, a exploração espacial integra esse novo setor da economia, no qual os produtos e serviços espaciais extrapolaram as atividades de defesa e pesquisa científica e são desenvolvidos cada vez mais por empresas privadas. Trata-se de um mercado da escala de centenas de bilhões de dólares anuais em meteorologia, observação da terra, sistemas de posicionamento global (GPS), telecomunicações – especialmente para telefonia e TV digital –, entre outras áreas.
Durante muitos anos muitos se falou, e com razão, sobre o investimento insuficiente de recursos no Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE). Em agosto de 2014, quando escrevi para o caderno “Ilustríssima”, da Folha, a reportagem “O espaço, esse rabo de foguete: Por que a sétima economia do mundo ainda é retardatária na corrida espacial”, a Índia estava destinando mais de US$ 1 bilhão por ano. O Brasil, porém, de 1980 a 2011, ou seja, em 22 anos, gastou US$ 2,7 bilhões, somadas todas as ações do PNAE. Ou seja, um gasto anual médio de 12,3% do indiano.
Burocracia e falta de objetivos
Mas todo esse atraso brasileiro não se deve só à falta falta de dinheiro ou à falta de integração do PNAE com a indústria, o que também é um fator de complicação. Faltaram e têm faltado, sobretudo, comando unificado, racionalidade e gestão com foco em resultados.
Em 1971 a tal comissão proposta pelo grupo de trabalho criado dez anos antes pelo decreto de Jânio Quadros foi extinta e deu lugar à Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (Cobae), ligada ao Estado-Maior das Forças Armadas. Foi ridículo fazer isso justamente quando a maioria dos programas espaciais de outros países já haviam se desmilitarizado, inclusive Estados Unidos e URSS. Sobre esse momento, Ludmila Deute Ribeiro, consultora em política espacial, explicou para minha citada reportagem:
Naquela época, mantendo a participação militar, os principais programas espaciais estrangeiros já estavam adotando o modelo de direção civil e avançavam na transferência, para a iniciativa privada, da produção de lançadores e satélites, completando o ciclo da pesquisa, produção e inovação.
Em 1977, com a Índia já tendo colocado satélites no espaço, a Cobae precisou organizar um seminário no Rio de Janeiro para entender o que haviam feito e estavam fazendo o civil Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o militar Instituto de Atividades Espaciais (IAE). Desse seminário nasceu o PNAE. Mas foi preciso outro, em 1979, em São José dos Campos, para chegar à proposta de colocar em órbita em 1989 o SCD-1 (Satélite de Coleta de Dados) com o VLS-1, ambos a serem construídos no próprio país para a Missão Espacial Completa Brasileira (Mecb).
‘Míssil disfarçado’
Para complicar essa burocracia, o projeto do VLS-1 deu motivos de sobra para ser interpretado como tendo também finalidade bélica devido à opção pelo combustível sólido. Quase todos os novos lançadores já usavam propulsão líquida, que libera mais energia de impulsionamento e usa câmaras de combustão mais leves, podendo ainda ser interrompida, reativada e também controlada. A única vantagem do combustível sólido é a de permitir o armazenamento dentro do foguete para ser lançado imediatamente. E isso só interessa no caso de mísseis.
Com essa configuração de seu lançador, o PNAE passou a enfrentar dificuldades ainda maiores do que as que já tinha com a importação de componentes e a cooperação internacional. O problema estava no âmbito do Regime de Controle da Tecnologia de Mísseis (MTCR), criado em 1987 por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido para estabelecer embargos contra a proliferação de foguetes capazes de transportar armas químicas e bacteriológicas, as chamadas armas de destruição em massa.
Conflitos internos
O ano de 1989, em que deveria ser consumada a Mecb, começou com o brigadeiro Hugo de Oliveira Piva, então diretor-geral do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), propondo a redução do tamanho e dos cerca de 115 kg do satélite SCD-1 para o tenente-brigadeiro Paulo Roberto Camarinha, ministro-chefe do EMFA e presidente da Cobae. Dada na presença de terceiros, a resposta, hilária, foi registrada pelo jornalista Roberto Lopes, da Folha:
Ah, isso não, Piva. Se for pra fazer um satélite menor, é melhor botar logo uma cabeça de negro [explosivo de festa junina] ou um buscapé na ogiva desse foguete de vocês, e soltar.
Apesar dessa enquadrada que deu em Piva, Camarinha também não tolerou as articulações para contratar um lançador estrangeiro. As tratativas estavam sendo feitas pelo então diretor-geral do Inpe, Marco Antonio Raup, e pelo gerente do programa do satélite no instituto, Aydano Carleial. Procurado pelo citado repórter, o brigadeiro não usou meias-palavras:
O “seu” Raupp e o “seu” Carleial não têm nada de querer comprar foguete lançador nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Eles estão sabotando o programa espacial brasileiro. Pode escrever isso no seu jornal.
Raupp, que anos depois se tornou presidente da SBPC (2007-2011), da Agência Espacial Brasileira (2011-2012) e ministro da Ciência e Tecnologia (2012-2014), e Carleial acabaram sendo demitidos. Na sequência o Inpe protagonizou por um dos piores momentos de sua história, com o atraso proposital do cronograma do satélite SCD-1. A manobra serviu para aliviar a pressão sobre o IAE, que estava patinando com o lançador VLS-1. Registrei essa história em maio de 1990 na Folha com a reportagem //md-m09.sid.inpe.br/rep/sid.inpe.br/md-m09@80/2006/01.02.10.24?mirror=sid.inpe.br/banon/2001/03.09.09.16.44&;metadatarepository=sid.inpe.br/md-m09@80/2006/01.02.10.25.01" target="_blank">“Atraso na fabricação de satélite foi deliberado”.
Desperdício
No final das contas, o SCD-1 acabou sendo lançado somente em fevereiro de 1993 por um foguete Pegasus de um B-52 que decolou do Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos. Só dois protótipos do VLS-1 foram lançados, um em 1997 e o outro em 1999. Ambos foram detonados pela equipe de controle após a constatação de panes antes de completarem os testes. E o terceiro lançamento previsto não aconteceu por causa do incêndio em agosto de 2003 que matou 21 técnicos na torre de lançamento.
Haveria ainda muito o que dizer sobre toda essa história de fracassos. Mas, para encerrar logo esta conversa, prefiro reproduzir uma carta enviada para a Folha e publicada no “Painel do Leitor” dois dias depois de minha longa reportagem sobre o PNAE na “Ilustríssima”.
O artigo “O espaço, esse rabo de foguete” (“Ilustríssima”, 10/8) é uma importante contribuição à história do Programa Espacial Brasileiro. Infelizmente, é uma história de poucos resultados práticos e desperdício de recursos humanos e financeiros. Fui o primeiro representante da Comissão Nacional de Atividades Espaciais nos EUA e trabalhei na Nasa, entre 1962 e 1963. Na minha volta ao Brasil, o chefe havia sido substituído por outro, que me mandou esperar até ser chamado. Passados 51 anos, estou esperando até hoje. A Folha me salvou do desemprego, ao me admitir como responsável pela seção “O Tempo Hoje e Amanhã”, de previsões meteorológicas.
RUBENS JUNQUEIRA VILLELA, professor aposentado do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP (São Paulo, SP)
Muitos pesquisadores e técnicos dedicados, competentes e até mesmo brilhantes participaram e ainda participam do PNAE. Mas o esforço deles rola por terra não só por causa da falta de recursos, da falta de prioridade governamental e da burocracia. O trabalho deles é desperdiçado também e, talvez, sobretudo, pela falta de um verdadeiro comando unificado, de uma gestão com foco em resultados e de racionalidade.
Na imagem acima, foguete PSLV-C37 da Organização de Pesquisa Espacial Indiana (Isso), lançado ontem (quarta-feira, 15/fev) em Sriharikota, levando o número recorde de 104 satélites individuais. Imagem capturada de vídeo da Isro.
Direto da Ciência