“Trata-se de construir um projeto de país onde ciência, democracia, equidade e direitos caminhem juntos e onde nenhuma pessoa seja condenada, pela cor da pele, a viver menos, sofrer mais ou ser sistematicamente silenciada”, escreve Francilene Garcia, presidente da SBPC
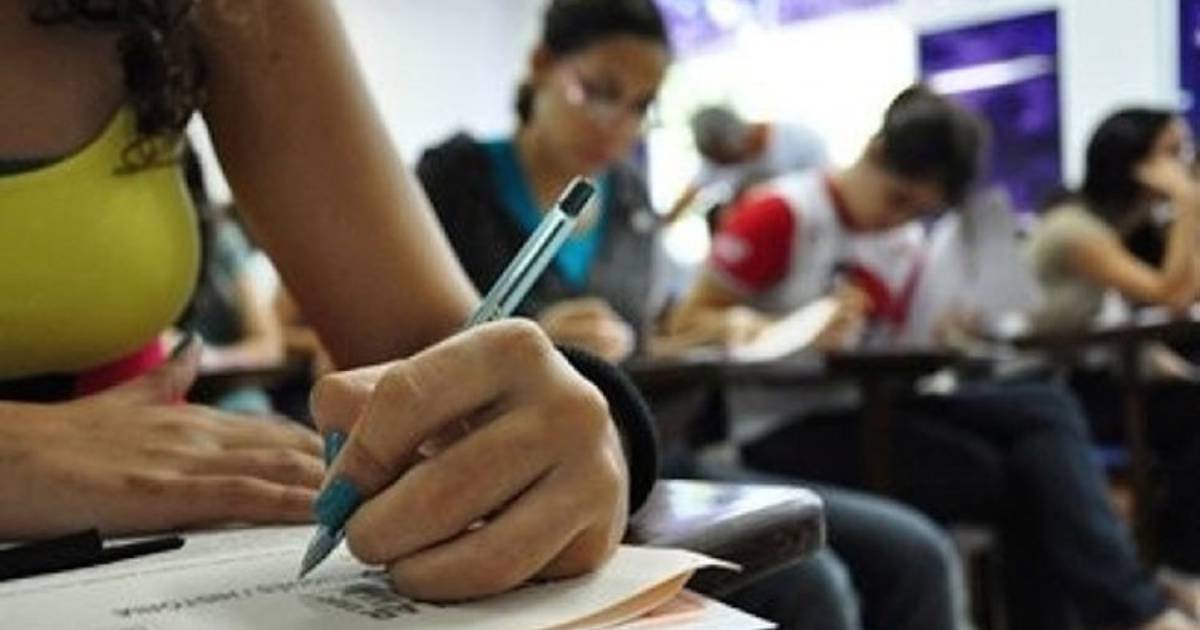 O Brasil ainda distribui oportunidades pela cor da pele. Décadas após a promulgação de nossa Constituição Federal, a população negra continua concentrada nos indicadores mais adversos de renda, escolaridade, moradia, saúde e segurança. Essa permanência não é um resíduo de um passado remoto, mas a expressão de estruturas que atravessaram séculos de escravização, sobreviveram a diferentes regimes autoritários, alcançaram a redemocratização e seguem orientando práticas estatais, prioridades orçamentárias e modelos de gestão pública. O Brasil avançou na formulação de marcos legais que afirmam igualdade e dignidade, mas ainda não conseguiu traduzir esses princípios em políticas capazes de alterar, de modo consistente e contínuo, as condições concretas de vida da maioria da população negra. A distância entre o que consagramos como direito e o que se materializa no cotidiano é a medida da profundidade das desigualdades estruturais.
O Brasil ainda distribui oportunidades pela cor da pele. Décadas após a promulgação de nossa Constituição Federal, a população negra continua concentrada nos indicadores mais adversos de renda, escolaridade, moradia, saúde e segurança. Essa permanência não é um resíduo de um passado remoto, mas a expressão de estruturas que atravessaram séculos de escravização, sobreviveram a diferentes regimes autoritários, alcançaram a redemocratização e seguem orientando práticas estatais, prioridades orçamentárias e modelos de gestão pública. O Brasil avançou na formulação de marcos legais que afirmam igualdade e dignidade, mas ainda não conseguiu traduzir esses princípios em políticas capazes de alterar, de modo consistente e contínuo, as condições concretas de vida da maioria da população negra. A distância entre o que consagramos como direito e o que se materializa no cotidiano é a medida da profundidade das desigualdades estruturais.
Nesse percurso, algumas conquistas simbólicas e normativas se tornaram referências importantes, como a consolidação do 20 de novembro como data nacional dedicada à memória de Zumbi e à Consciência Negra. Criado a partir da mobilização do movimento negro no início dos anos 1970, tornou-se marco escolar em 2003 e foi instituído como data comemorativa e oficializado como feriado nacional duas décadas depois, em 2023. O 20 de novembro é hoje uma política de Estado da memória, que reconhece a centralidade da luta antirracista na formação do Brasil. Essa trajetória ilustra a luta histórica da população negra para reposicionar sua própria narrativa no centro do debate público e afirmar seu legítimo protagonismo na formação do país. Trata-se, portanto, de um compromisso com a memória, a justiça e a reparação histórica, elementos essenciais para a efetivação das políticas antirracistas. Sem esse passo fundamental, continuaremos acumulando dados e evidências sobre como a discriminação racial atinge brasileiras e brasileiros desde a primeira infância.
A violência institucional e a discriminação cotidiana são partes de uma mesma estrutura que opera na contramão dos compromissos constitucionais de proteção integral. Omissões e atuações violentas do Estado chancelam essa lógica. Como vimos há poucas semanas, as operações policiais realizadas nos Complexos da Penha e do Alemão do dia 28 de outubro, sob responsabilidade do governo do estado do Rio de Janeiro, expuseram, novamente, uma política de segurança que produz letalidade dirigida majoritariamente à população negra. Pesquisas de instituições como IPEA, Fiocruz, universidades federais e organizações de direitos humanos demonstram claramente esse padrão.
No sistema educacional, a omissão também aprofunda desigualdades. A Lei 10.639/2003, que há duas décadas estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todas as etapas da educação básica, ainda não é implementada na maior parte dos municípios, perpetuando estruturas de silenciamento e invisibilidade. Na educação de jovens e adultos, o abandono escolar é maior entre jovens negros, sobretudo aqueles forçados a trabalhar desde cedo. Mesmo na educação superior, estudantes negros enfrentam barreiras adicionais de permanência, financiamento e condições materiais de estudo, apesar da ampliação de vagas e do impacto positivo das políticas de cotas.
Essas desigualdades se prolongam no sistema de justiça brasileiro, onde menos de 15% dos magistrados se identificam como negros. Essa sub-representação convive com microagressões, tratamento diferenciado e desconfiança estrutural direcionados a profissionais e jurisdicionados negros. O racismo opera dentro de suas rotinas, decisões e culturas organizacionais, ou seja, a própria estrutura do Judiciário reproduz discriminações e compromete princípios constitucionais básicos. Essa ausência de representatividade também afeta a legitimidade social do sistema de justiça e a confiança pública em suas decisões.
Na saúde, pesquisas recentes apontam que milhares de mortes neonatais poderiam ser evitadas se gestantes pretas, pardas e indígenas tivessem o mesmo a cuidados equivalentes aos oferecidos às mulheres brancas. O racismo obstétrico, a negligência no atendimento, a diferença de tratamento e a ausência de políticas específicas para populações vulnerabilizadas revelam que a injustiça racial também define trajetórias de vida desde antes do nascimento. A epidemiologia brasileira já demonstrou, de forma robusta, como o racismo estrutura padrões de morbimortalidade.
No campo das políticas de meio ambiente, a Declaração de Belém de combate ao racismo ambiental, assinada na Cúpula de Líderes da COP30, reconhece que populações negras, indígenas e comunidades tradicionais enfrentam os impactos mais severos da crise climática, ao mesmo tempo em que desempenham papel central na proteção dos territórios. Colocar a justiça racial no centro da governança climática é condição para uma transição justa e sustentável. A COP30 representa uma oportunidade histórica de afirmar o papel da ciência e dos saberes tradicionais na construção de uma adaptação climática baseada em justiça ambiental.
O debate internacional caminha na mesma direção. Organismos multilaterais vêm mostrando como o racismo corrói a participação política, enfraquece democracias e é ampliado por algoritmos que promovem conteúdos nocivos. Sistemas de Inteligência Artificial, treinados em bases de dados marcadas por desigualdades, reproduzem vieses racistas em áreas sensíveis como saúde, crédito, vigilância e segurança pública. A corrida global pela IA, marcada por disputas geopolíticas e assimetrias tecnológicas, reforça a necessidade de soberania digital, transparência, auditoria independente e participação das comunidades afetadas na formulação das regras que orientarão essa infraestrutura crítica. Isso requer políticas nacionais de dados, investimento em infraestrutura científica, ciência aberta responsável e formação de profissionais negros e indígenas em STEM e ciência de dados.
Entidades brasileira, inclusive a SBPC, também têm alertado para o crescimento de discursos de ódio, ataques racistas e desinformação amplificados por plataformas que operam sem transparência. A moção “Apoio à regulamentação das plataformas digitais e em defesa da soberania tecnológica do Brasil”, aprovada em julho pela Assembleia Geral de Sócios durante a 77ª Reunião Anual da SBPC, é um exemplo desses alertas. No documento, reafirmamos que o país precisa de uma regulação eficaz, baseada em evidências científicas, que garanta o dever de cuidado das plataformas em relação a conteúdos relacionados a crimes de racismo, violência política, ataques a crianças e adolescentes, entre outros. Propostas legislativas que eliminam essa obrigação ignoram o consenso científico sobre os impactos da desinformação e fragilizam a capacidade do Estado de lidar com ameaças que atingem diretamente a democracia, os direitos humanos e a segurança pública.
A própria comunidade científica precisa continuar a confrontar seus vieses. A academia brasileira é historicamente constituída como espaço de predominância branca. As políticas de cotas modificaram o perfil das universidades, especialmente as públicas, e ampliaram o acesso, sem reduzir vagas de candidatos não cotistas. Ao contrário das críticas infundadas difundidas em canais sensacionalistas que alimentam discursos de ódio, a expansão do ensino superior federal ampliou as oportunidades para todos. No entanto, as desigualdades persistem na pós-graduação, nos concursos docentes, na distribuição de bolsas e na ocupação de cargos de liderança. Um quadro que limita a qualidade da produção científica e restringe a pluralidade de perspectivas necessária para enfrentar problemas complexos. A ausência de diversidade racial também reduz a capacidade inovadora do país e limita a contribuição da ciência para o desenvolvimento nacional.
O reconhecimento público feito por periódicos internacionais sobre seu próprio legado racista, como fez a Natura, há dois anos, e a recente constatação de que pouco se avançou desde então, reforçam que a ciência permanece profundamente apegada às desigualdades que a estruturaram. Esses movimentos internacionais reforçam a urgência da comunidade científica brasileira assumir compromissos concretos de transformação, com metas e mecanismos de avaliação.
A SBPC tem se posicionado, ao longo de sua história, contra todas as formas de racismo, discriminação e violência que negam direitos e ameaçam a democracia. Temos defendido políticas de reparação, fortalecimento da educação antirracista, ampliação de oportunidades para cientistas negros e indígenas, e regulamentação responsável do ambiente digital. Também temos atuado para que a ENCTI 2026–2035 incorpore de maneira explícita a agenda da diversidade e da inclusão como pilares para o avanço da ciência brasileira. Mas sabemos que somente a denúncia não basta.
Enfrentar o racismo exige compromisso contínuo, capacidade de autocrítica e políticas de Estado capazes de promover justiça, dignidade e igualdade. E a ciência tem papel muito importante nesse processo: produzir conhecimento, reconhecer e apontar desigualdades, apoiar políticas públicas e promover inclusão, inclusive revendo suas próprias estruturas. Trata-se de construir um projeto de país onde ciência, democracia, equidade e direitos caminhem juntos e onde nenhuma pessoa seja condenada, pela cor da pele, a viver menos, sofrer mais ou ser sistematicamente silenciada. Não haverá ciência forte, nem democracia estável, enquanto parte da população brasileira continuar submetida à violência, à discriminação e ao silêncio.
Francilene Garcia, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC
Veja as notas do Especial da Semana – Racismo
Mariana Tokarnia – Agência Brasil, 06/10/2025 – Uma em cada seis crianças de até 6 anos foi vítima de racismo no País
Correio Braziliense, 19/05/2025 – Educação por combate ao racismo é escassa em escolas pelo Brasil
Alma Preta, 26/03/2025 – Exposição ao racismo desde a infância eleva risco de transtornos mentais ao longo da vida
Governo do Ceará, 18/06/2025- Lei que proíbe condenados por racismo de ocupar cargos públicos representa um marco histórico no Ceará
Brasil de Fato, 10/03/2025 – A corrida pela Inteligência Artificial: racismos e poderes das plataformas digitais
Ministério da Igualdade Racial, 07/11/2025 – Brasil lança Declaração de combate ao racismo ambiental em Cúpula dos Líderes da COP30
Le Monde Diplomatique, 20/11/2024 -O legado de Zumbi nos dados da desigualdade brasileira
Agência Câmara de Notícias, 17/09/2025 – Comissão aprova reparação por discriminação ou racismo contra consumidores
Camila Boehm – Agência Brasil – Renda baixa e racismo impedem conclusão do ensino básico, diz pesquisa
ONU, 26/08/2025 – ONU debate como racismo e discriminação racial enfraquecem democracia
Jornal da USP, 09/12/2024 – Relatório evidencia racismo estrutural no sistema de justiça brasileiro e propõe ações para enfrentá-lo
Daniella Longuinho* – Repórter da Rádio Nacional, 22/11/2024 – Racismo estrutural impacta mortes neonatais no Brasil
Le Monde Diplomatique, 18/02/2025 – Precariedade docente: remuneração e racismo estrutural
Brasil de Fato, 19/08/2025 – Debate sobre ‘movimento pardo’ fragiliza combate ao racismo no Brasil, dizem especialistas
Poder360, 13/12/2024 – Só 3% das ações contra racismo no Brasil têm orçamento, diz estudo
Folha de S. Paulo, 24/06/2025 – Registros de racismo e injúria têm alta no Brasil; crimes contra LGBTs sofrem com lacunas de dados
ONU Brasil, 21/03/2025 – “O veneno do racismo continua a infectar nosso mundo”
Nature 641, 1071 (17/05/2025) – Acabar com o racismo na ciência: não deve haver nenhum argumento sobre esse objetivo